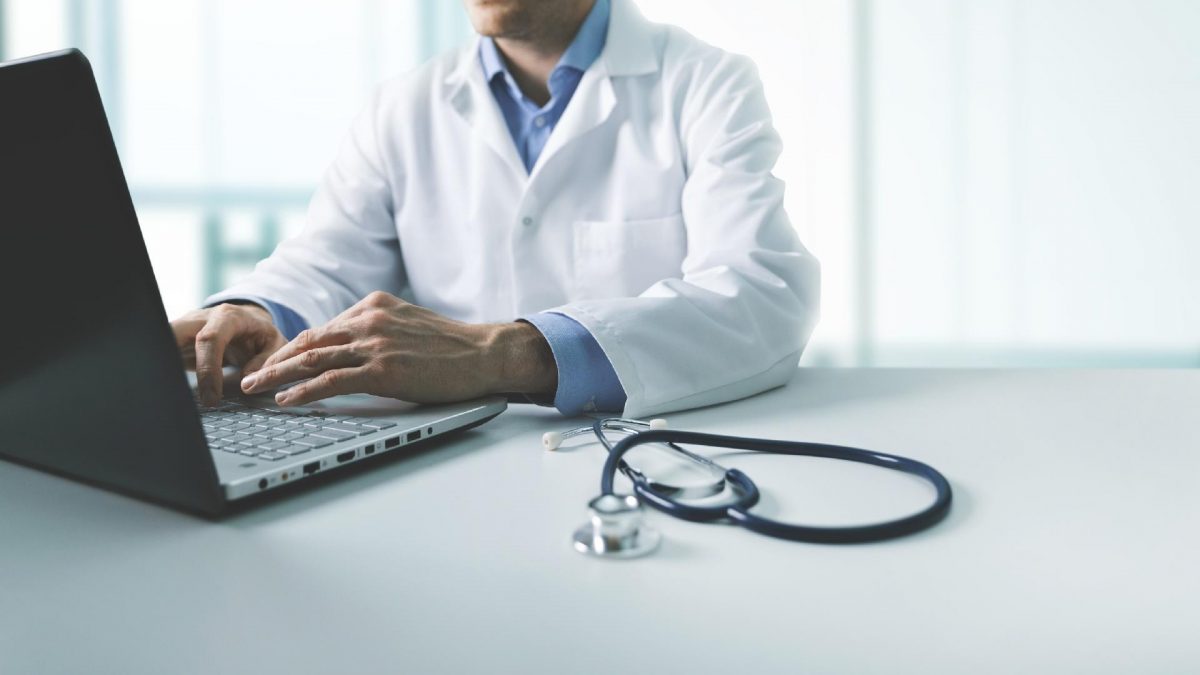A Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para cumprir o mandamento constitucional, o poder público pode prestar os serviços diretamente ou por meio de terceiros, inclusive de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Nesse contexto, os planos e seguros de saúde proporcionam aos seus beneficiários a possibilidade de ter um atendimento, em geral, mais rápido e com mais qualidade do que o oferecido em instituições públicas, normalmente sobrecarregadas.
Com a finalidade de proporcionar saúde a seus empregados e atrair novos colaboradores, órgãos públicos e empresas privadas incluem em seu plano de benefícios a oportunidade de contratação de plano ou seguro de saúde subsidiado. Muitas controvérsias jurídicas advêm dessa relação operadora-empregador-empregado – entre elas, as discussões sobre o direito de trabalhadores demitidos ou aposentados permanecerem no plano de assistência à saúde.
Não raras vezes, o tema do direito de permanência é enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que interpreta a lei buscando conciliar os direitos das três partes e promover, tanto quanto possível, o bem-estar do trabalhador, fragilizado pela possibilidade de ficar sem a cobertura.
A Lei 9.656/1998, em seus artigos 30 e 31, e os normativos editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regulamentaram o direito de permanência no plano, mas, quando surgem dúvidas na aplicação de tais instrumentos, o Judiciário é provocado a saná-las.
Cancelamento pelo empregador
No julgamento do REsp 1.736.898, a Terceira Turma do STJ, sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, decidiu que não subsiste o direito do ex-empregado a permanecer no plano de saúde na hipótese em que a pessoa jurídica estipulante rescinde o contrato com a operadora, afetando não apenas um beneficiário, mas toda a população do plano coletivo.
O caso analisado teve origem em ação ajuizada por um aposentado que requereu sua manutenção no plano por prazo indeterminado, alegando que contribuiu por mais de dez anos, razão pela qual teria o direito de permanecer, nos moldes do artigo 31 da Lei 9.656/1998. Afirmou ainda que a circunstância de ter pagado as contribuições diretamente à ex-empregadora não prejudicou em nada a operadora, pois os valores eram quitados integralmente.
Em seu voto, a relatora apontou que, conforme o artigo 26, inciso III, da Resolução Normativa 279/2011da ANS, uma das formas de extinção do direito de permanência do inativo no plano de saúde é o seu cancelamento pelo empregador que concede esse benefício aos empregados ativos e ex-empregados.
“Independentemente de o pagamento da contribuição do beneficiário ter sido realizado diretamente em favor da pessoa jurídica estipulante, por mais de dez anos, a rescisão do plano de saúde coletivo ocorreu em prejuízo de toda a população anteriormente vinculada”, esclareceu a ministra.
A magistrada destacou que, em tais circunstâncias, as operadoras que mantenham também plano de saúde na modalidade individual ou familiar deverão disponibilizar esse regime ao universo dos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos da Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (Consu).
Aposentado contratado
Outro importante julgamento da Terceira Turma, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, foi o do REsp 1.371.271, no qual se entendeu pela possibilidade de aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/1998 ao aposentado – e ao grupo familiar inscrito, na hipótese de seu falecimento – que é contratado por empresa e, posteriormente, demitido sem justa causa.
No caso analisado pela turma, a viúva de um aposentado que trabalhava em uma empresa de engenharia requereu sua permanência por período indeterminado no plano de saúde do falecido, que havia sido demitido sem justa causa meses antes de sua morte.
Segundo ela, o marido contribuiu por nove anos e oito meses com o plano e, após sua morte, a operadora permitiu que ela continuasse contribuindo como titular, o que totalizou um período de mais de dez anos de pagamento, como exigido pelo artigo 31 da Lei 9.656/1998.
A operadora do plano defendeu a aplicação do artigo 30, alegando que o falecido teria sido demitido sem justa causa, fazendo jus à manutenção do plano de saúde, desde que assumido o seu pagamento integral, pelo período mínimo de seis e máximo de 24 meses.
A ministra Nancy Andrighi destacou que “o texto legal não evidencia, de forma explícita, que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à vigência do contrato de trabalho, limitando-se a indicar a figura do aposentado – sem fazer quaisquer ressalvas – que tenha contribuído para o plano de saúde, em decorrência do vínculo empregatício”.
Entretanto, a relatora não acolheu as alegações da viúva, por entender que a lei expressamente exige que o aposentado tenha contribuído por prazo mínimo de dez anos, não podendo esse papel ser exercido por seus dependentes.
Supressio
Ao julgar o REsp 1.879.503, também de relatoria da ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma confirmou decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e determinou que uma empresa mantivesse, com base na proteção da confiança (supressio), o plano de saúde oferecido a um ex-funcionário, mesmo passados mais de dez anos do fim do vínculo empregatício.
Segundo os autos, o funcionário foi demitido em 2001, e em 2003 se esgotou o prazo legal previsto no artigo 30, parágrafo 1º, da Lei 9.656/1998 para a manutenção do plano de saúde após o rompimento do vínculo. Contudo, o contrato foi prorrogado por liberalidade da empresa e com assunção do custo total até 2013, quando então o ex-empregado, com 72 anos de idade, foi notificado pela ex-empregadora de sua exclusão do plano de saúde.
Em seu voto, a relatora do caso destacou que a Lei 9.656/1998 prevê que o empregado demitido se mantenha no plano coletivo empresarial, após o rompimento do vínculo, pelo período máximo 24 meses.
Entretanto, na hipótese analisada, Nancy Andrighi destacou que o fato de a empresa ter mantido o segurado e sua esposa no plano, ao longo de dez anos, superou em muito o prazo legal que autorizava a exclusão, o que despertou nos consumidores a confiança na manutenção vitalícia do benefício.
Boa-fé objetiva
A magistrada comentou que a responsabilidade pela confiança constitui “uma das vertentes da boa-fé objetiva, enquanto princípio limitador do exercício dos direitos subjetivos, e coíbe o exercício abusivo do direito, o qual, no particular, se revela como uma espécie de não exercício abusivo do direito, de que é exemplo a supressio“.
Ela explicou que a supressio indica a possibilidade de se considerar extinta determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente pelo credor gere no devedor a legítima expectativa de que esse não exercício se prorrogará no tempo.
“O abuso do direito – aqui caracterizado pela supressio – é qualificado pelo legislador como espécie de ato ilícito (artigo 187 do Código Civil de 2002), no qual, em verdade, não há desrespeito à regra de comportamento extraída da lei, mas à sua valoração; o agente atua conforme a legalidade estrita, mas ofende o elemento teleológico que a sustenta, descurando do dever ético que confere a adequação de sua conduta ao ordenamento jurídico”, afirmou.
Custeio exclusivo
Sob o rito dos recursos repetitivos, ao analisar os Recursos Especiais 1.680.318 e 1.708.104, a Segunda Seção definiu que, nos planos coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa, salvo disposição contrária expressa em contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando o plano como salário indireto.
A tese foi cadastrada como Tema 989 na base de dados do STJ. A relatoria foi do ministro Villas Bôas Cueva, que destacou que uma das condições exigidas pela Lei 9.656/1998, artigos 30 e 31, para a aquisição do direito de permanência do inativo no plano é justamente ter contribuído na ativa para o seu custeio, o que significa pagar uma mensalidade, independentemente de usar a assistência médica.
O magistrado lembrou que a coparticipação do consumidor exclusivamente em procedimentos não é considerada contribuição, pois é tão somente um fator de moderação, cuja função é evitar o uso desenfreado dos serviços da saúde suplementar.
Já no caso de inclusão do empregado em plano privado superior de assistência à saúde (upgrade), com pagamento de valor periódico fixo, oferecido pelo empregador em substituição ao originalmente disponibilizado sem a sua participação, incidirão os mesmos direitos do inativo contribuinte – informou o relator.
Villas Bôas Cueva salientou ainda que o plano de assistência médica, hospitalar e odontológica concedido pelo empregador não tem índole salarial, independentemente de serem os serviços prestados de forma direta pela empresa ou por determinada operadora.
“O plano de saúde fornecido pela empresa empregadora, mesmo a título gratuito, não possui natureza retributiva, não constituindo salário-utilidade (salário in natura), sobretudo por não ser contraprestação ao trabalho. Ao contrário, referida vantagem apenas possui natureza preventiva e assistencial, sendo uma alternativa às graves deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS), obrigação do Estado”, declarou.
Assistência e custeio
Também no rito dos repetitivos, sob relatoria do ministro Antonio Carlos Ferreira, a Segunda Seção firmou três teses sobre quais condições assistenciais e de custeio do plano deveriam ser mantidas para beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/1998 (Tema 1.034).
A primeira tese fixou que “eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de dez anos previsto no artigo 31 da Lei 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial”.
Na segunda, ficou definido que “o artigo 31 da Lei 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”.
A última estabeleceu que “o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do artigo 31 da Lei 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências”.
Ao propor a afetação dos Recursos Especiais 1.818.487, 1.816.482 e 1.829.862 para julgamento da questão repetitiva, o ministro Antonio Carlos Ferreira alertou para a relevância da controvérsia e destacou a multiplicação dos planos coletivos de saúde e dos processos envolvendo esse tipo de contratação.
Competência
No REsp 1.695.986, a Terceira Turma, desta vez sob a relatoria do ministro Villas Bôas Cueva, entendeu que compete à Justiça estadual o processamento e o julgamento de feitos relacionados ao direito de ex-empregados aposentados ou demitidos sem justa causa permanecerem em plano de saúde coletivo oferecido pela própria empresa empregadora aos trabalhadores ativos, na modalidade de autogestão.
Discutiu-se, na ocasião, se a questão corresponderia à relação de trabalho, com a consequente remessa à Justiça trabalhista, ou se seria matéria civil, de competência da Justiça comum. Em seu voto, o relator destacou que a competência é fixada em razão da natureza da causa, definida pelo pedido e pela causa de pedir constantes da petição inicial.
Ele afirmou que, segundo a jurisprudência do STJ anterior às Leis 9.659/1998, 9.961/2000 (criadora da ANS) e 10.243/2001 (que alterou o parágrafo 2º do artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), competia à Justiça estadual julgar as ações relativas aos contratos de cobertura médico-hospitalar em geral.
Nos casos em que a ex-empregadora mantinha o próprio plano de saúde em favor de seus empregados, na modalidade de autogestão, a competência era da Justiça do Trabalho, visto que a discussão acerca do direito de manutenção no plano tinha relação direta com o contrato de trabalho extinto.
“De fato, antes da vigência desses diplomas legais, a relação jurídica mantida entre o usuário do plano de saúde e a entidade de autogestão empresarial era apenas uma derivação da relação de emprego, pois a regulação era feita pelo contrato de trabalho, por normas internas da empresa e, às vezes, por acordo coletivo de trabalho”, ressaltou o ministro.
Autonomia
Entretanto, com a edição das citadas leis, Villas Bôas Cueva apontou que a saúde suplementar – incluída a autogestão – adquiriu autonomia em relação ao direito do trabalho, por possuir campo temático, teorias, princípios e metodologias específicos. Dessa forma, as entidades de autogestão passaram a ser enquadradas como operadoras de planos de saúde, submetendo-se à regulação e à fiscalização da ANS.
“Em virtude da autonomia jurídica, as ações originadas de controvérsias entre usuário de plano de saúde coletivo e entidade de autogestão (empresarial, instituída ou associativa) não se adequam ao ramo do direito do trabalho”, concluiu o relator.
Ele recordou ainda que o plano fornecido pela empregadora, mesmo a título gratuito, não possui natureza retributiva, não constituindo salário-utilidade (salário in natura), sobretudo por não ser contraprestação ao trabalho.
“Com maior razão, por já ter sido encerrado o seu contrato de trabalho, a pretensão do ex-empregado de manutenção no plano de assistência à saúde fornecido pela ex-empregadora não pode ser vista como simples relação de trabalho. Ao contrário, trata-se da busca de direito próprio de usuário contra a entidade gestora do plano de saúde”, declarou.
Fonte: STJ